 #Carreiras
#Carreiras
Sofrimento psíquico na academia: A pressão para publicar mais e elevar os indicadores
Uso excessivo de métricas para avaliar desempenho de pesquisadores e balizar progressão na carreira pode gerar sobrecarga de trabalho e agravar distúrbios mentais
 Especialistas chamam a atenção para o uso abusivo de parâmetros como índice-h e citações para avaliar o desempenho acadêmico de pesquisadores; critérios quantitativos podem impactar negativamente na saúde mental, além de abrir espaço para desvios éticos no ambiente acadêmico | Imagem: Shutterstock
Especialistas chamam a atenção para o uso abusivo de parâmetros como índice-h e citações para avaliar o desempenho acadêmico de pesquisadores; critérios quantitativos podem impactar negativamente na saúde mental, além de abrir espaço para desvios éticos no ambiente acadêmico | Imagem: Shutterstock
Esta é a segunda reportagem de uma série que o Science Arena publicará nas próximas semanas. Ela resulta do trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado por Eduarda Antunes Moreira, sob orientação do professor Ricardo Whiteman Muniz, na especialização em jornalismo científico do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas (Labjor-Unicamp). Leia aqui a primeira reportagem da série.
Além da complexidade das relações interpessoais e do excesso de funções desempenhadas no ambiente acadêmico, outro obstáculo que dificulta a vida de muitos pesquisadores é a pressão para publicar artigos científicos – cada vez mais em revistas de alto impacto e maior prestígio internacional.
No contexto brasileiro, atualizar a plataforma Lattes, que reúne cerca de 8 milhões de currículos acadêmicos, com papers publicados em periódicos de destaque serve como uma “credencial” para que pesquisadores sejam reconhecidos e recompensados com cargos de liderança, promoções na carreira e financiamento.
Apesar do conjunto de indicadores alternativos criados na última década para avaliar a qualidade do trabalho de docentes e pesquisadores, métricas quantitativas como o número de artigos publicados e citações recebidas ainda são parâmetros consagrados.
Ocorre que, nos últimos anos, a falta de financiamento adequado à pesquisa contribuiu para a queda na produção científica brasileira, de acordo com relatório da editora holandesa Elsevier e da Agência Bori, publicado no ano passado.
Cortes de orçamento e de bolsas restringem não só a produção científica em si, mas também a publicação de seus resultados – especialmente em periódicos científicos de acesso aberto de prestígio internacional, que cobram altas taxas dos autores.
Publicar e “padecer”
O número de artigos publicados em revistas científicas influencia não só o rumo da carreira profissional de pesquisadores, mas também a nota da avaliação dos programas de pós-graduação feita pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC).
Rankings internacionais, que comparam o desempenham de universidades do mundo todo a partir de diferentes modelos de classificação, também utilizam critérios quantitativos – apesar dos esforços recentes para que sistemas de avaliação da pesquisa adotem indicadores mais qualitativos para analisar a produção de acadêmicos.
Uma iniciativa que busca contribuir com essa missão é Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), uma coalizão articulada pela European Science Foundation que reúne mais de 720 organizações científicas do mundo todo.
Em artigo publicado em setembro de 2024, membros da direção do CoARA afirmam que a iniciativa busca chamar a atenção para a “dependência excessiva, não confiável e prejudicial à saúde” de métricas com foco restrito no número de publicações científicas.
Os autores reconhecem, ainda, que o uso exagerado de indicadores como índice-h e citações impacta negativamente a saúde mental, além de abrir espaço para desvios éticos no ambiente acadêmico.
O artigo 207 da Constituição Federal brasileira determina que as universidades têm autonomia didático-científica. Isso significa que as instituições têm liberdade para definir linhas de ensino e pesquisa, temas de cursos e como pretendem transmitir conhecimento para a sociedade.
No entanto, com a consagração de métricas quantitativas por órgãos responsáveis pela avaliação, os interesses dos próprios pesquisadores passaram a ser orientados por assuntos com potencial de gerar mais artigos e mais citações.
O fato é que a chamada cultura de “publish or perish” (“publique ou pereça”), se sobrepõe a muitos interesses científicos, tais como gerar conhecimento novo e propor soluções para enfrentar desafios complexos da sociedade.
A ideia de que cientistas que não publicam com frequência em revistas de impacto são improdutivos precisa ser superada, argumenta a química Juliana Fedoce, professora da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), em Minas Gerais.
“A competitividade nos transformou em produtores de trabalhos em vez de cientistas”, diz Fedoce, que é fundadora do Instituto Sua Ciência, organização sem fins lucrativos dedicada a disseminar conhecimento e buscar alternativas de financiamento.
Para Peter Schulz, professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e estudioso da cientometria (área que investiga a produção científica a partir de indicadores), a supervalorização de métricas quantitativas faz com que a publicação de papers se torne um fim em si mesmo.
“Isso pode acabar ofuscando o desempenho das outras missões da universidade, como atividades de ensino e extensão”, diz Schulz. “Hoje a ciência vem a reboque do artigo, mas deveria ser o contrário.”
De acordo com Filipe Rebelo Buchmann, psicólogo do Programa ECOS da Universidade de São Paulo (USP), a pressão para emplacar cada vez mais publicações pode estimular uma corrida desenfreada e sem “vencedores”.
“Essa lógica pode nutrir a sensação de dívida e insuficiência, afetando profundamente a condição de saúde mental de pesquisadores.”
A resonsabilidade das editoras científicas
As editoras científicas são figuras centrais nesse debate. Grandes grupos editoriais praticam há décadas margens de lucro elevadas com o sistema de assinaturas de revistas, a partir da cobrança de leitores contratos com agências de fomento e instituições de ensino e pesquisa.
Nos últimos anos, muitas editoras também passaram a maximizar seus ganhos com a publicação de papers em acesso aberto. Neste modelo de negócios, em vez de cobrar taxas ou assinaturas dos leitores, as empresas transferem os custos para os autores, que precisam pagar as chamadas taxas de processamento de artigos (APC) para publicar seus trabalhos.
Como os valores das APC geralmente são proibitivos, os pesquisadores precisam recorrer a suas instituições ou às agências que financiam suas pesquisas.
Para o médico Olavo Amaral, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e estudioso dos desafios da reprodutibilidade científica, a adoção indiscriminada do número de artigos publicados como parâmetro de qualidade do trabalho de pesquisadores colocou as editoras científicas em posição de poder indevida.
“Sem falar que se paga milhares de dólares em taxa de publicação para as revistas mandarem o manuscrito a revisores que trabalham de graça”, pontua Amaral.
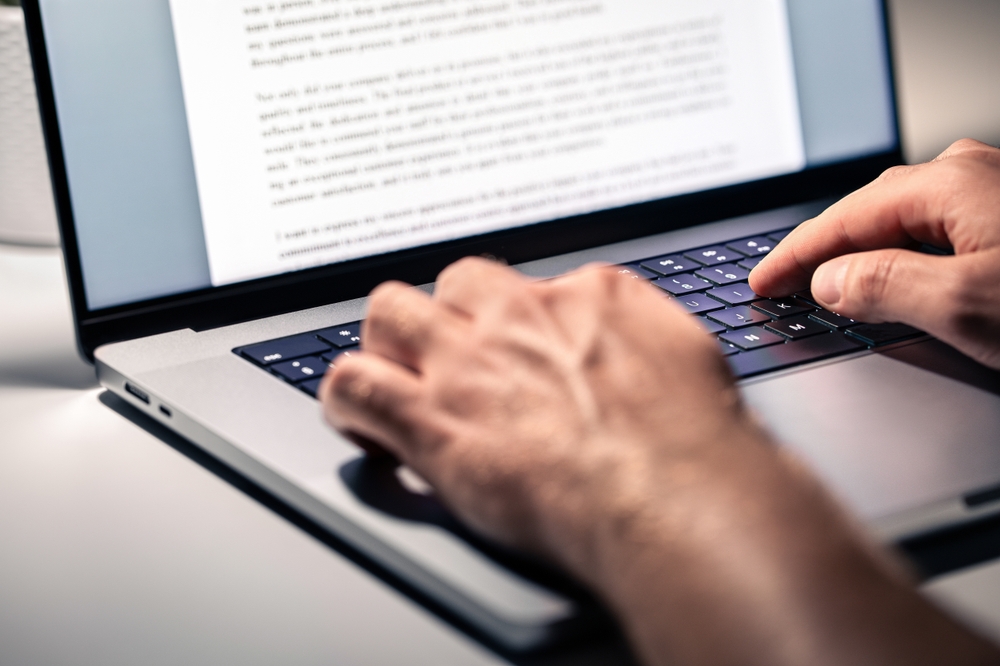
Assimetrias e desequilíbrio
Grande parte da produção científica brasileira é feita em instituições públicas de ensino e depende do apoio de órgãos federais e estaduais.
Além das restrições de orçamento, frequentemente debatidas, outro grande problema é a forma desigual como os recursos são distribuídos regionalmente – comprometendo o desempenho de pesquisadores a depender de onde estão alocados.
Agências de fomento federais e estaduais trabalham de forma semelhante: abrem editais com exigências específicas para que os cientistas submetam seus projetos, concorrendo por uma determinada quantia.
Contudo, assimetrias da sociedade brasileira contribuem para que haja uma concentração histórica da infraestrutura de pesquisa e da produção científica nas regiões Sul e Sudeste, segundo relatório de 2024 do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
Projetos, grupos de pesquisa e instituições com mais recursos e infraestrutura têm mais chances de serem bem avaliados nos rankings de prestígio acadêmico. Nesse ciclo, os mais bem ranqueados conseguem receber mais financiamento.
“Pesquisadores com boas propostas, mas pouco conhecidos ou vinculados a instituições com pouca tradição científica e menos recursos, são bastante prejudicados”, comenta o historiador Heribaldo Maia, mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e autor do livro Neoliberalismo e sofrimento psíquico: o mal-estar nas universidades.
“É preciso dar condições para que as pessoas consigam se tornar produtivas”, afirma Maia, ao chamar a atenção para a importância de políticas públicas dedicadas à descentralização dos recursos e da atividade de pesquisa no Brasil.
Para além das disparidades econômicas e de infraestrutura que atormentam a vida acadêmica de muitos, também é preciso reconhecer a sobrecarga emocional gerada por desigualdades raciais e de gênero.
No caso das mulheres, o desequilíbrio de gênero no ambiente acadêmico pode comprometer significativamente a saúde mental de pesquisadoras e estudantes.
Uma pesquisa publicada em 2021 por membros do projeto Parent in Science, iniciativa criada em 2017 com o objetivo de discutir o impacto na parentalidade na carreira acadêmica, ressalta a necessidade de parâmetros de avaliação distintos para populações específicas.
O estudo indica que, em 2020 (primeiro ano da pandemia de covid-19), apenas 47,4% das pesquisadoras que são mães, e que responderam a um questionário, conseguiram submeter manuscritos para publicação em períodicos. Já entre pesquisadores homens com filhos, a proporção foi de 65,3%.
Em muitos casos, a alta demanda por produtividade e as dificuldades enfrentadas pelas pesquisadoras para ascender na carreira (o chamado “teto de vidro”, isto é, barreiras invisíveis que impedem que mulheres cheguem a cargos mais altos) estão associadas a episódios de depressão.
Em sua dissertação de mestrado, apresentada na Universidade Federal Fluminense (UFF) em 2023, a fisioterapeuta Sarah Rocha Alves mostrou que aproximadamente 40% das mães cientistas ouvidas na pesquisa tinham sinais de depressão, enquanto entre pais cientistas a taxa foi de 22%.
“Na comunidade acadêmica, as mães apresentam mais sintomas depressivos do que as mulheres não-mães. Para os homens, não encontramos diferenças entre pais e não-pais”, escreveu Alves. “Além disso, fatores como ser a cuidadora principal, ter filho com deficiência, ser negra e não ter rede de apoio contribuíram para maiores sintomas de depressão entre as mães.”
*
É permitida a republicação das reportagens e artigos em meios digitais de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND.
O texto não deve ser editado e a autoria deve ser atribuída, incluindo a fonte (Science Arena).


