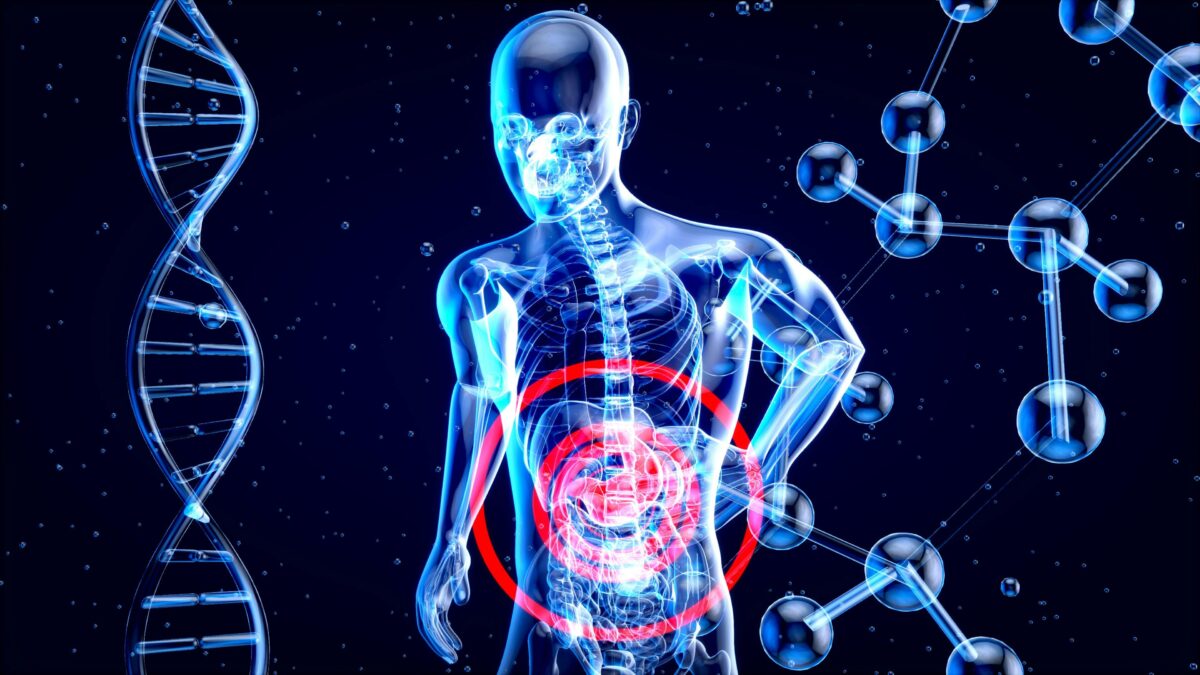#Ensaios
#Ensaios
Contribuições do jornalismo científico no combate ao negacionismo e à desinformação
Jornalistas de ciência e cientistas cada vez mais ajudam a combater informações falsas e a elucidar questões complexas para o público
 O chamado jornalismo científico desempenha papel fundamental no combate à desinformação e ao negacionismo, ao se mostrar vigilante em relação às ações e intenções daqueles que insistem em contrariar os fatos e a realidade | Imagem: Shutterstock
O chamado jornalismo científico desempenha papel fundamental no combate à desinformação e ao negacionismo, ao se mostrar vigilante em relação às ações e intenções daqueles que insistem em contrariar os fatos e a realidade | Imagem: Shutterstock
O combate ao negacionismo e à desinformação, no Brasil e em todo o mundo, não representa apenas uma prática necessária, mas uma missão, um compromisso que deve ser assumido por todos nós.
Torna-se cada vez mais imperioso o esforço para mobilizar a sociedade tendo em vista o enfrentamento de uma vigorosa e intensa avalanche de notícias falsas que, na maioria dos casos, não está associada à ignorância e à má informação das pessoas.
Ela resulta da ação de grupos, empresas, parlamentares, entidades e governantes comprometidos com interesses extra científicos, de natureza comercial, política, ideológica e até mesmo religiosa.
Os negacionistas buscam, deliberadamente, contrariar as evidências científicas e a realidade dos fatos, dedicando atenção especial aos temas emergentes e controversos que caracterizam a sociedade contemporânea.
Defendem o uso de medicamentos ineficazes para enfrentar as epidemias globais (como a cloroquina e a ivermectina no caso da pandemia de covid-19), negam a relação, amplamente comprovada, entre as mudanças climáticas e a ação humana e o uso abusivo de combustíveis fósseis.
Mal-intencionados, criam argumentos falaciosos para reduzir a oposição aos agrotóxicos (que devem ser contemplados como veneno e não como “remédio para as plantas”) e para propagar as vantagens dos vapes em relação ao cigarro tradicional.
Os negacionistas se valem de estratégias ardilosamente planejadas para “plantar” teorias conspiratórias.
O objetivo disso é convencer a opinião pública de que a ciência não pode ser vista como possível solução dos problemas que assolam a sociedade moderna.
Nesse sentido, eles se empenham para encontrar (ou provocar) brechas que possam colocar em xeque as evidências científicas, sob a alegação de que a ciência não é infalível, com base na revisão de conclusões antes tidas como irrefutáveis.
Isso porque negacionistas ignoram que a ciência se caracteriza pela permanente análise de resultados de pesquisa e teorias, ainda que adequadamente formuladas, e que seus representantes são estimulados a contestá-los, sempre que existirem dúvidas sobre a sua validade.
A história da ciência traz exemplos de pressões exercidas junto aos cientistas que ousaram contrariar as certezas dominantes em uma determinada época, como ilustra a condenação do astrônomo e matemático italiano Galileu Galilei (1564-1642) pelo Vaticano, por suspeitar que a Terra não seria o centro do universo.
Essa ação truculenta da Igreja acabou retardando o progresso da ciência astronômica, mas, felizmente, no século XIX, com o aperfeiçoamento dos telescópios, a verdade foi finalmente restabelecida.
A ciência está empenhada em tornar compreensível o que acontece no mundo empírico e, evidentemente, com a consolidação de novas teorias e descobertas (Teoria da Relatividade, Física Quântica, Evolução, Estrutura do DNA, dentre outras) busca revisar sua percepção de fatos e processos.
O jornalismo de ciência, também chamado de jornalismo científico, desempenha papel fundamental no combate à desinformação e ao negacionismo, ao se mostrar vigilante em relação às ações e intenções daqueles que insistem em contrariar a realidade para fazer prevalecer seus interesses e convicções.
De imediato, podemos mencionar alguns atributos básicos ou características essenciais para que o jornalismo científico cumpra à risca essa missão:
Conhecimento aprofundado dos temas ou assuntos tratados na cobertura jornalística:

O jornalista de ciência deve dominar conceitos e processos que caracterizam os temas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), a partir:
- Da leitura atenta e crítica da literatura (livros, revistas científicas, relatórios de pesquisa, dentre outros);
- Da participação em eventos técnico-científicos;
- Do contato com as fontes competentes (pesquisadores, cientistas ou entidades e associações que representam os diversos campos do conhecimento).
O conhecimento da história, da sociologia da ciência e do método científico constitui, também, elemento indispensável para a formação e a prática do jornalista de ciência.
Identificação das fontes com interesses extra científicos:

As fontes, ainda que desfrutem de prestígio em suas áreas, podem estar comprometidas com interesses que se situam fora da ciência.
Esses desvios éticos podem ser encontrados em movimentos ou campanhas desenvolvidas por empresas ou por grupos no Congresso Nacional com o objetivo de defender aqueles aos quais elas estão associadas.
Tais fontes se propõem a atuar junto à opinião pública, ao Parlamento e mesmo aos seus pares para propagar ideias e teorias que contribuam para a implementação de leis e políticas públicas que não afrontem os privilégios já desfrutados por seus parceiros.
Os debates acalorados sobre transgênicos ou agrotóxicos, a demarcação de terras indígenas, a eficácia das vacinas, a liberação dos vapes e o impacto das mudanças climáticas, dentre outros temas, contam com a participação de especialistas dispostos a defender os interesses daqueles que os remuneram.
Recomenda-se que o jornalista de ciência identifique esses compromissos e que utilize, sempre que possível, mais de uma fonte, visando checar as informações previamente, antes de compartilhá-las.
Conhecimento das estratégias negacionistas, inclusive quando desenvolvidas por fontes especializadas:

O jornalista de ciência deve estar ciente das armadilhas utilizadas pelos que propagam o negacionismo e a desinformação, para identificá-las e desmascará-las, o que exige espírito crítico e coragem, tendo em vista que boa parte delas é patrocinada por lobbies poderosos.
Há pressões gigantescas exercidas por empresas, partidos ou religiosos junto aos jornalistas, como a prática do assédio judicial, cada vez mais recorrente.
Além da tentativa de manchar a imagem dos profissionais de imprensa e meios de comunicação que divulguem informações que lhes sejam desfavoráveis, como a ameaça de suspensão de investimento publicitário.
Os negacionistas se valem amplamente das mídias sociais e estão, quase sempre, reunidos em comunidades formadas por membros que cultivam as mesmas ideias ou crenças e que dialogam permanentemente.
Imbuídos de um sentimento missionário, acreditam que sua missão seja aumentar sua influência junto aos amigos, familiares e à própria opinião pública.
Uma estratégia bastante utilizada, e em muitos casos bem-sucedida, busca criar suspeitas em relação a informações científicas qualificadas, exemplarmente caracterizada pelo epidemiologista norte-americano David Michaels como “o triunfo da dúvida”, título de seu livro traduzido recentemente para a língua portuguesa.
Como já apontamos, alguns cientistas e especialistas são contratados para difundir ideias e mesmo “criar” artigos e pesquisas que coloquem em dúvida evidências científicas já amplamente confirmadas.
Casos como o da indústria do tabaco, do negacionismo climático, do movimento antivacina, do lobby formidável da ‘Big Pharma’ ou das ‘Big Techs’ são sobejamente conhecidos e têm o potencial de contaminar o debate.
Por isso, recomenda-se que a imprensa não dê espaço para que negacionistas propaguem mentiras, como aconteceu na CPI da covid-19, de maneira flagrante e com grande audiência, quando programas jornalísticos de TV incluíram no debate fontes reconhecidamente negacionistas, favorecendo o incremento da desinformação.
Também é importante estar atento ao chamado “jornalismo patrocinado”, recurso utilizado por empresas e agências de comunicação para divulgar notícias sob encomenda e que não passam pelo crivo das redações. O Código Nacional dos Jornalistas repudia esta prática condenável à qualidade da informação jornalística.
Incentivo à formação, à prática e à pesquisa do Jornalismo Especializado:

O jornalismo especializado (científico, ambiental e em saúde, por exemplo) deveria fazer parte da grade curricular de diferentes cursos nas universidades brasileiras – não apenas dos de jornalismo, como complemento à formação nas várias áreas do conhecimento.
Hoje, na mídia de massa ou em canais independentes nas mídias sociais (blogs, canais de vídeo, portais, podcasts), nota-se, felizmente, uma presença expressiva de divulgadores científicos não formados em comunicação compartilhando resultados e esclarecendo conceitos básicos dos diversos campos de conhecimento.
Estudos revelam que a audiência dessas iniciativas cresce vertiginosamente, notadamente entre os jovens e, em muitos casos, chegam a atingir centenas de milhares de seguidores.
Por isso, fontes de financiamento deveriam promover iniciativas de capacitação para a prática do jornalismo científico e para a pesquisa nesta área, como faz a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), com formidável competência.
É ilustrativo citar o levantamento, recentemente realizado pelo grupo de pesquisa JORCOM – O Jornalismo na Comunicação Organizacional, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), em parceria com a Comtexto Comunicação e Pesquisa, junto aos grupos de pesquisa em Jornalismo Especializado, cadastrados no Diretório dos Grupos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Esse mapeamento resgatou mais de meia centena de grupos de pesquisa focados especificamente em Jornalismo Científico, Ambiental e em Saúde, que contam com a participação de cerca de 500 pesquisadores e igual número de estudantes, em sua maioria constituída por alunos de pós-graduação.
Para fortalecer o jornalismo científico é importante o apoio de todos aqueles que estão comprometidos com o combate à desinformação e ao negacionismo.
A prática, o ensino e a pesquisa em Jornalismo Científico constituem atividades valiosas para a legitimação da importância da ciência, da tecnologia e da inovação em nosso país e devem ser vigorosamente estimuladas.
A ciência, o jornalismo e a sociedade saberão reconhecer e recompensar este apoio.
Wilson da Costa Bueno é jornalista, mestre e doutor em Comunicação, professor sênior do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), onde é líder do grupo de pesquisa JORCOM. É diretor da Comtexto Comunicação e Pesquisa e defendeu a primeira tese sobre Jornalismo Científico no Brasil.
Os artigos opinativos não refletem necessariamente a visão do Science Arena e do Hospital Israelita Albert Einstein.
*
É permitida a republicação das reportagens e artigos em meios digitais de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND.
O texto não deve ser editado e a autoria deve ser atribuída, incluindo a fonte (Science Arena).