 #Entrevistas
#Entrevistas
Autocorreção da ciência: como David Mech desfez o conceito de “lobo alfa”
Pesquisador norte-americano reflete sobre a autocorreção da ciência e os desafios de atualizar o conhecimento diante de conceitos enraizados
 O biólogo David Mech ajudou a popularizar o conceito do “lobo alfa” e, décadas depois, sua própria pesquisa revelou que a ideia estava equivocada | Imagem: Wikimedia Commons
O biólogo David Mech ajudou a popularizar o conceito do “lobo alfa” e, décadas depois, sua própria pesquisa revelou que a ideia estava equivocada | Imagem: Wikimedia Commons
A ciência não é um conjunto fixo de verdades, mas um processo dinâmico, em constante revisão. Poucos exemplos ilustram isso tão bem quanto a trajetória da ideia do “lobo alfa”.
Popularizado pelo biólogo David Mech em seu livro The Wolf: Ecology and Behavior of an Endangered Species (1970), o conceito de que os lobos vivem em uma estrutura rígida de dominação, onde machos lutam para liderar a matilha, tornou-se crença amplamente disseminada. O problema? Estava errado.
Décadas depois, com estudos mais aprofundados de lobos em vida selvagem, Mech percebeu que o modelo de hierarquia baseado em dominância era um artefato de pesquisas feitas com animais em cativeiro.
Na natureza, as matilhas são compostas por famílias, e os “líderes” são, na realidade, os pais dos filhotes.
“Quando escrevi meu livro em 1970, tudo o que sabíamos vinha de observações de lobos que não eram parentes, confinados juntos. Depois de anos de pesquisa de campo, ficou claro que o conceito de ‘lobo alfa’ era equivocado”, explica Mech, que é cientista sênior do Serviço Geológico dos Estados Unidos e professor adjunto na Universidade de Minnesota.
Buscando corrigir essa visão equivocada, Mech publicou, em 1999, o artigo Alpha Status, Dominance, and Division of Labor in Wolf Packs, no qual argumenta que o termo “lobo alfa” não se aplica a lobos selvagens, pois ele não disputam liderança – apenas formam famílias.
Mas mudar um conceito enraizado na cultura popular não é simples. Mesmo após a publicação do artigo, a ideia persistiu no imaginário coletivo, sendo amplamente utilizada pela mídia e em discursos populares sobre comportamento humano.
Só recentemente, mais de 20 anos depois, a correção começou a alcançar um público mais amplo, impulsionada por novas reportagens, como uma da revista The New Yorker, e pelo esforço contínuo de Mech e outros pesquisadores.
A história de David Mech não trata apenas de lobos, mas da própria natureza do método científico.
Em entrevista ao Science Arena, Mech reflete sobre o desafio de comunicar descobertas científicas ao público e sobre como a mídia, frequentemente, demora a atualizar conceitos obsoletos. Além disso, ele destaca um problema recorrente na ciência: a facilidade com que correlações são interpretadas como causalidade.
“A ciência usa correlações porque elas ajudam a formular hipóteses, mas precisamos ser cautelosos antes de tratá-las como verdades absolutas”, alerta.
Science Arena – Quando você percebeu que o conceito de “lobo alfa” estava equivocado, como foi lidar com essa mudança?
Minha percepção mudou em 1986, quando fui para a Ilha Ellesmere, no extremo norte do Canadá, onde os lobos são tolerantes à presença humana. Lá, pude viver próximo a matilhas e observá-las diretamente. Foi então que percebi que esses grupos eram simplesmente famílias. O casal reprodutor eram os pais dos filhotes — e não lobos que haviam lutado para “chegar ao topo”.
No entanto, em 1970, ainda não sabíamos disso. Só depois de muitos anos estudando lobos e analisando seus padrões sociais é que ficou claro que o conceito de “alfa” era inadequado. Em 1999, escrevi um artigo propondo que parássemos de usar esse termo e, em vez disso, chamássemos os lobos dominantes de “macho e fêmea reprodutores” ou simplesmente “pais da matilha”.
Levou quase 30 anos até que o conceito fosse corrigido.
Mudar um conceito tão difundido leva tempo. A comunidade científica aceitou essa mudança rapidamente, e a partir dos anos 2000, a maioria dos artigos acadêmicos parou de usar o termo “alfa”. No entanto, a mídia demorou muito mais para atualizar sua linguagem.
Nos últimos anos, finalmente vi essa correção alcançar o público de maneira mais ampla, em grande parte porque algumas grandes publicações começaram a cobrir o assunto.
Quando uma ou duas revistas populares começaram a falar sobre isso, outras seguiram o exemplo, e a ideia finalmente começou a mudar na cultura popular.
Por que demorou tanto para essa ideia ser revista?
Estudar lobos na natureza de perto sempre foi difícil. No início, a maior parte da pesquisa era feita por rastreamento aéreo e colares de rádio, o que nos permitia mapear seus movimentos, mas não observar suas interações sociais detalhadamente.
Somente quando tive a oportunidade de viver entre os lobos na Ilha Ellesmere pude realmente compreender sua estrutura social. Mas, nessa altura, a ideia do “lobo alfa” já estava muito enraizada na cultura popular.
Mesmo depois que publiquei meu artigo em 1999, levaria mais de 20 anos para que a mídia e o público começassem a abandonar o termo “alfa”. Isso não é incomum.
Até mesmo descobertas médicas costumam levar algumas décadas para serem amplamente aceitas pelos profissionais da área.
Science Arena – O que despertou seu interesse pelos lobos? O que o levou a estudá-los?
David Mech – Meu interesse pela vida selvagem começou quando eu era caçador de animais que dão pele e capturava ratos-almiscarados, martas e esse tipo de animal. Achei os carnívoros, como martas e raposas, mais desafiadores e interessantes, e decidi que gostaria de passar minha carreira estudando esses animais.
Quando era estudante de graduação, tive a oportunidade de ser assistente de pesquisa em um projeto com ursos-negros. Capturávamos os ursos vivos, os anestesiávamos e os marcávamos com etiquetas auriculares para acompanhar seus deslocamentos.
Assim, se um urso fosse atropelado ou caçado, poderíamos aprender mais sobre seus movimentos. Durante os invernos, continuei caçando, mas desta vez na natureza, estudando carnívoros maiores, como a marta-pescadora. Passei vários invernos rastreando-os na neve, nas montanhas Adirondack [cordilheira do estado de Nova York].
Foi daí que você adquiriu experiência no estudo de grandes carnívoros na natureza?
Isso mesmo. Então, quando um professor de outra universidade precisou de um aluno para estudar lobos, ele ouviu falar de mim e me escolheu para o projeto, que acabou se tornando minha pesquisa de doutorado. O estudo envolvia seguir lobos na neve usando um avião de pequeno porte.
Nosso objetivo principal era determinar quantos lobos viviam em uma grande ilha no Lago Superior, que tinha cerca de 210 milhas quadradas, aproximadamente 500 km². Essa ilha também abrigava alces, que eram a principal presa dos lobos. Além de contar os lobos, precisávamos determinar quantos alces existiam e observar as interações entre as duas espécies — como os lobos caçavam os alces e quantos capturavam, entre outras questões.
Você publicou, em 1970, o livro que ajudou a popularizar a ideia do “lobo alfa”. Como esse conceito surgiu e se espalhou culturalmente?
Isso começou na década de 1940 com o etólogo alemão Rudolf Schenkel, que queria estudar lobos. Na época, ele só podia fazer isso em cativeiro, então pegou lobos de diferentes zoológicos e os colocou juntos, pensando que aquele grupo representava uma matilha real. Mas, mais tarde, aprendemos que uma matilha de lobos na natureza é, na verdade, uma família, algo que Schenkel não sabia.
Ao observar os lobos em cativeiro, ele percebeu que eles formavam uma hierarquia de dominância, semelhante à hierarquia em galinhas. Lobos de posição mais alta foram chamados de “alfas”.
Naquele ambiente artificial, onde os lobos não eram parentes, fazia sentido que houvesse disputas por dominância e que os indivíduos no topo fossem chamados assim.
A coisa mudou quando a pesquisa passou a ser feita no ambiente natural?
Quando comecei a estudar lobos na natureza, percebi que as matilhas eram, na verdade, grupos familiares. Isso mudou minha perspectiva a respeito de como deveríamos descrever a hierarquia dentro da matilha. Mas, em 1970, eu ainda não sabia disso. Naquele momento, tudo o que tínhamos para basear nosso conhecimento sobre o comportamento social dos lobos era o trabalho de Schenkel, então escrevi sobre isso no meu livro.
Esse livro acabou se tornando um best-seller e permaneceu em circulação até 2022, ou seja, por 52 anos. Durante todo esse tempo, as pessoas continuaram usando o termo “alfa” para se referir aos lobos no topo da hierarquia.

Como foi para você perceber que a visão estabelecida estava errada? Isso o preocupou?
Lembro-me claramente do momento em que percebi isso na Ilha Ellesmere. Meu primeiro pensamento foi: “Uau”. Depois, caiu a ficha de que o meu próprio livro tinha ajudado a espalhar essa ideia equivocada.
Foi um pouco desconfortável, porque eu sabia que teria que trabalhar bastante para explicar essa mudança. Mas a ciência é um processo autocorretivo, e percebi que era minha responsabilidade esclarecer essa questão.
Essa é uma situação que pode acontecer com qualquer pesquisador: novas descobertas podem mudar o que antes era aceito como verdade. Que conselho você daria a outros cientistas que possam enfrentar isso em suas carreiras?
Acho que quanto mais conseguirmos explicar à mídia que existem diferentes maneiras de obter conhecimento, melhor será a compreensão do público sobre como a ciência funciona. A forma mais comum de fazer ciência, mesmo na literatura médica, é com correlações.
Mas sempre que usamos uma correlação, precisamos deixar claro que correlação não significa necessariamente conclusão, e muito menos causalidade.
É muito fácil saltar para uma conclusão a partir de uma correlação — isso é um erro comum que todos nós cometemos. A ciência usa correlações porque, para certos tipos de estudo, elas são mais acessíveis e rápidas de obter. Como resultado, vemos muitas pesquisas baseadas nesse tipo de análise.
No entanto, sempre que encontramos uma correlação, precisamos enfatizar que também são necessários outros tipos de estudo, como experimentos controlados, para determinar se há, de fato, uma relação de causa e efeito.
Qual é a importância das correlações na ciência?
O motivo pelo qual usamos correlações é que elas ajudam a gerar hipóteses. Se encontramos uma correlação, faz sentido propor a hipótese de que ela pode refletir uma relação causal. Mas só podemos confirmar isso com estudos de outro tipo.
O conceito incorreto de “lobo alfa” persistiu por décadas até que, há cerca de dois anos, algumas publicações populares começaram a corrigir a informação. Isso gerou um efeito em cadeia — um veículo de mídia foi influenciando o outro.
Você acha que hoje estamos mais preparados para lidar com mudanças no conhecimento científico do que há 30 anos?
Sim, acho que estamos melhores agora. A pandemia de covid-19 ajudou tanto a mídia quanto o público a entenderem melhor como a ciência funciona.
Quando pesquisas precisam ser feitas rapidamente, como aconteceu na pandemia, é inevitável que as recomendações mudem conforme novas informações surgem. Esse processo mostrou às pessoas que a ciência é dinâmica. Acho que, no geral, isso ajudou a melhorar a comunicação científica.
*
É permitida a republicação das reportagens e artigos em meios digitais de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND.
O texto não deve ser editado e a autoria deve ser atribuída, incluindo a fonte (Science Arena).

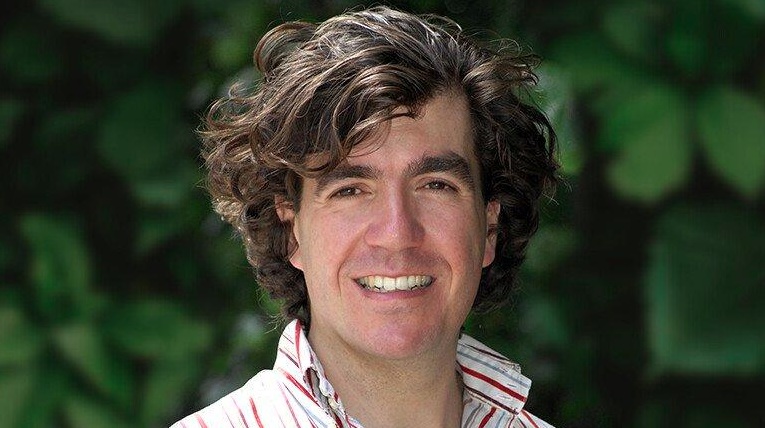

Super interessante.
A boa ciência não corresponde ao que se espera (e o que se diz) da ciência: um atestado da realidade. A evidência científica é temporal e incompleta, muitas vezes.
Gostei da entrevista e de como o Mench pôde ter curiosidade suficiente para revisitar o conceito que o fez famoso. O problema é que a publicação dos anos 70 correspondia a um conceito humano e o artigo era a evidência que daria explicação para um fenômeno humano (em Mogli por exemplo, lobos disputam a posição de alpha, décadas antes de Mench publicar.