 #Ensaios
#Ensaios
Einstein relojoeiro
Refletir sobre as consequências de nossos trabalhos acadêmicos pode evitar práticas antiéticas, embora não garanta que descobertas não resultem em “bombas atômicas”
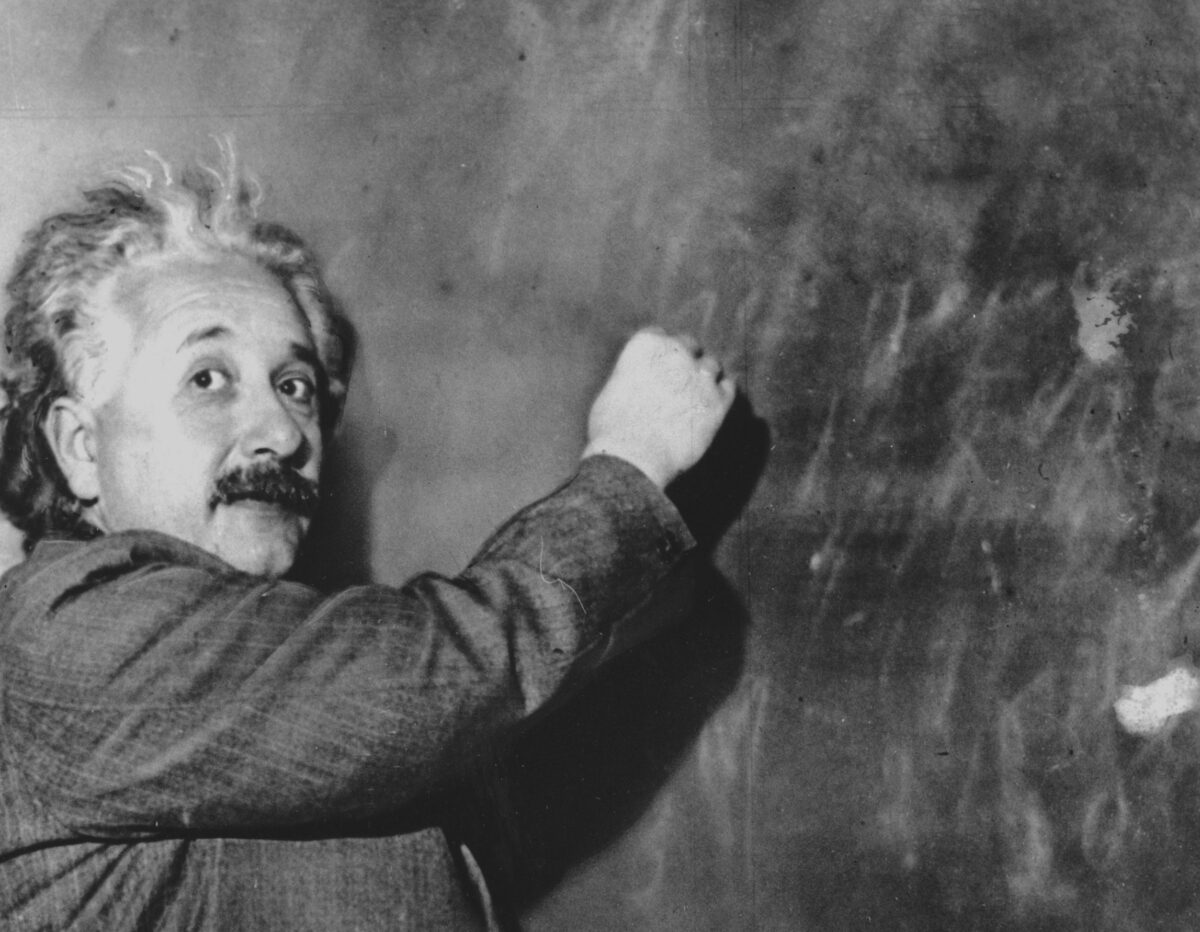 Em 'Como vejo o mundo', livro publicado originalmente em 1934, o físico alemão Albert Einstein (1879-1955), pai da teoria da relatividade, escreveu: “Hoje os cientistas e os técnicos estão investidos de uma responsabilidade moral particularmente pesada, porque o progresso das armas de extermínio maciço está entregue à sua competência. Por isto, julgo indispensável a criação de uma ‘sociedade para a responsabilidade social na Ciência.” (Nova Fronteira, 1981) | Imagem: Associated Press/WikiMedia Commons
Em 'Como vejo o mundo', livro publicado originalmente em 1934, o físico alemão Albert Einstein (1879-1955), pai da teoria da relatividade, escreveu: “Hoje os cientistas e os técnicos estão investidos de uma responsabilidade moral particularmente pesada, porque o progresso das armas de extermínio maciço está entregue à sua competência. Por isto, julgo indispensável a criação de uma ‘sociedade para a responsabilidade social na Ciência.” (Nova Fronteira, 1981) | Imagem: Associated Press/WikiMedia Commons
Baruch Spinoza (1632-1677), um filósofo europeu emblemático da modernidade, vinculava a ética à busca racional pela compreensão da natureza das coisas, incluindo a humana. Assim, a ciência, como investigação metódica dos fenômenos para produzir conhecimento (com toda licença poética necessária) sugere que a razão é essencial para a pesquisa ética.
Vou nessa direção para adicionar valor a um campo já tão explorado pelo viés regulatório – como nos Conselhos de Ética em Pesquisa (CEPs) e na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) –, e amplo no sentido das relações humanas (moral, empatia, responsabilidade, justiça, respeito). A razão permite que cheguemos a conclusões baseadas em evidências e princípios lógicos.
Proponho que, ao entendermos profundamente do que estamos tratando, aonde queremos chegar e quais as consequências dessa produção, teremos uma boa pista para nos relacionarmos melhor com os conceitos éticos e/ou morais na pesquisa de aplicação.
Vale voltar a Spinoza e complementar que, segundo ele, “toda a ética se apresenta como uma teoria da potência, em oposição à moral que se apresenta como uma teoria dos deveres”.
Enfatizo aqui a legitimidade da pesquisa curiosa, que deve ser neutra e isenta de julgamento, demandando validação (ética) somente quanto à sua condução, mas me interessa trazer a reflexão sobre sua implementação. Tive um aluno de doutorado excepcional, Marlon Ribeiro da Silva, historiador preocupado com a ética (social) nos desenvolvimentos tecnológicos.
Em sua tese, ele utilizou a leitura crítica e a reflexão sobre obras clássicas, como Frankenstein, da autora britânica Mary Shelley (1797-1851), para orientar conjuntamente estudantes de tecnologia no desenvolvimento de seus produtos e processos.
O título de sua tese, “Arte, ciência e tecnologia: um coração partido e a literatura como remédio”, é provocativo e recomendável.
O objetivo de refletir previamente sobre a motivação e as consequências de nossos trabalhos acadêmicos é uma forma de evitar práticas antiéticas, embora não existam garantias de que descobertas significativas, como a fissão nuclear, não resultem em bombas atômicas; e é claro que observar a história pelo retrovisor é sempre mais simples.
Diz-se que o físico alemão Albert Einstein (1879-1955), um ano antes de morrer, lamentou: “Se soubesse que iam fazer isso, teria me tornado um relojoeiro”.
Estou envolvido com pesquisa há décadas, e vejo que a curiosidade do saber científico impede a crença sem explicação – e por isso chamam a ciência de “igreja da razão”.
Quando avançamos para a motivação e o resultado do uso de nossos achados, acoplamos a palavra inovaçãoà pesquisa. Nesse contexto, temos algumas ferramentas que podem auxiliar nosso entendimento e ações mais éticas, como o design médico, a pesquisa orientada por missão, e a pesquisa de implementação.
O design médico envolve o planejamento participativo na definição de problemas, estratégias e autocrítica durante o processo produtivo. Energia com baixo desperdício, luz focada e direcionada. Comparo essa função à de um arquiteto, que estuda o comportamento dos futuros moradores de uma residência antes de propor um projeto adequado.
Aqui, fazemos uso intensivo da razão, conhecendo e analisando cenários previamente, mapeando pontos fortes e fracos, usando as ferramentas de forma isenta e testando as hipóteses rigorosamente, sempre com o usuário envolvido no processo.
A pesquisa orientada por missão, exemplificada pela missão lunar ordenada por John F. Kennedy (1917-1963) em 1961, “Pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra antes do fim desta década”, ao custo de US$ 257 bilhões (valores atualizados), deixou como herança artefatos úteis, como os computadores portáteis, fibras de carbono, educação ambiental, astronáutica e a própria valorização da ciência.
Trata-se de, conscientemente, apontar uma direção, criar condições e investir intensivamente em áreas estratégicas para o bem-estar planetário.
A ciência da implementação envolve o uso efetivo, por muitas pessoas, de soluções já testadas e aprovadas – baseadas em evidência. As barreiras conhecidas, como as estruturais (falta de acesso e recursos como tempo, fomento e equipamentos), culturais e sociais (resistência à mudança e adoção de novas práticas ou tecnologias), de conhecimento e habilidades (falta de treinamento adequado ou entendimento), legislativas e regulatórias (leis e regulamentos desatualizados ou restritivos) e as relacionadas à comunicação (transmissão ineficaz sobre os benefícios e procedimentos, pós-verdade) devem ser estudadas e consideradas no desenho e condução de nossa pesquisa para aumentar sua chance de adoção.
Esta visão mais holística da ética, que usa a racionalidade para basear suas decisões, deve estar alinhada aos conceitos de moral, responsabilidade, justiça e respeito, não somente para não fazermos o mal para a sociedade, mas para fazermos o bem, para fazermos bem melhor o bem.
Paulo Schor é médico oftalmologista, foi diretor de inovação tecnológica e social da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), onde é professor associado livre docente da Escola Paulista de Medicina, e gestor de pesquisa para inovação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
Os artigos opinativos não refletem necessariamente a visão do Science Arena e do Hospital Israelita Albert Einstein.
*
É permitida a republicação das reportagens e artigos em meios digitais de acordo com a licença Creative Commons CC-BY-NC-ND.
O texto não deve ser editado e a autoria deve ser atribuída, incluindo a fonte (Science Arena).

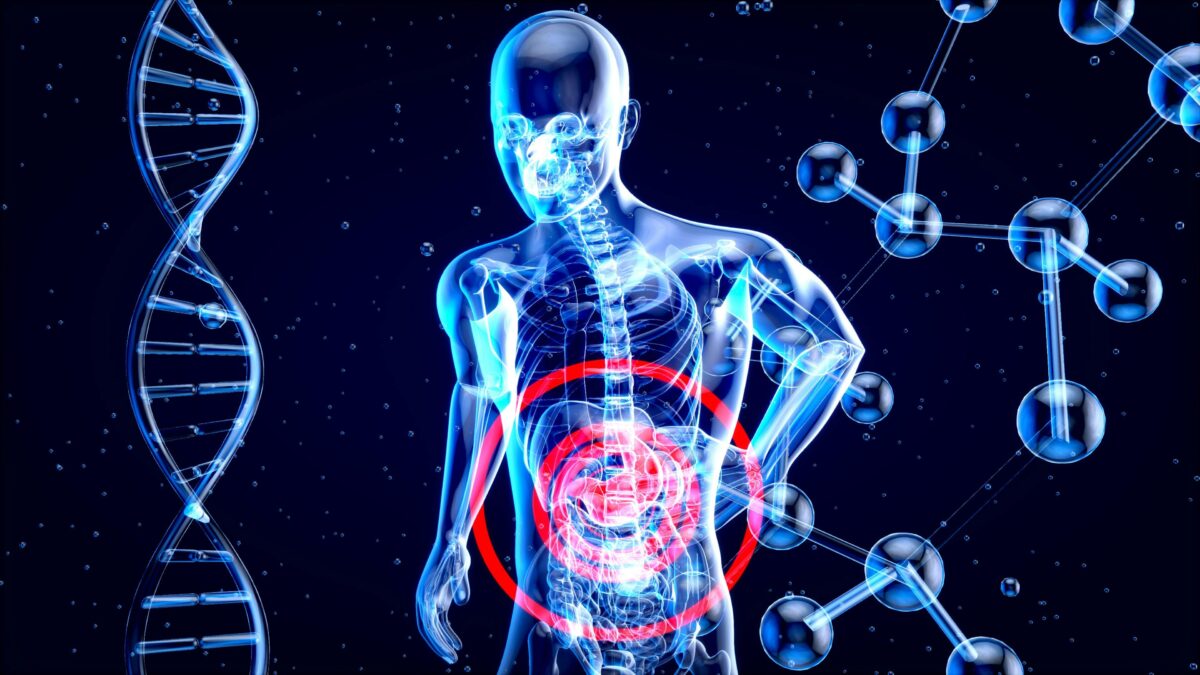

Eis um artigo realmente revigorante. Parabéns ao Dr. Paulo Schor e a todos da Science Arena. A posteridade agradece.